 |
| Reserva técnica da galeria, acondicionamento correto. |
Veja a lista de preços de algumas obras da nova Sala do Acervo da Galeria Virgílio. Valores válidos dia 10-12-1014
 |
| Sala do Acervo: exposição com amostra de diversos artistas |
A esquerda em cima.
Denise Milan, fotografia R$6.000 ( 93x73cm)
Danilo Oliveira, pintura R$10.000 (100x140cm)
Amalia Giacomini, objeto de parede R$ 8.000 (55x70cm)
Embaixo
Mariana Matos (pintura sobre papel), R$ 6.500 (86x122cm)
Fernando Burjato, pinturas R$
7.000 (100x130cm)
Danilo Oliveira, pintura R$9.700 (120x100cm)

Mariana Mattos, pintura, R$12.500 (150x200cm)
- Danilo Oliveira, pintura R$9.700 (120x100cm)
- Denise Milan, fotografia R$ 7.000 (70x47cm)
- Reynaldo Candia, (azulejos vermelhos 49x43cm R$2.500, (cartas recortadas 64x43cm) R$ 3.000)
- Ana Brenguel, pintura R$ 2.500 (30x45cm)
Osmar Pinheiro, pintura R$ 35.000 (100x140cm)
A esquerda
Fernando Vilela, pintura R$ 7000 (50x70cm)
Helio Bartsch, colagens R$ 3000 (34x25cm)
Renata Pedrosa, desenho R$ 3500 (50x64cm)
Celina Yamauchi, fotografia R$ 3600 (44x44cm)
A direita
Marcia Cymbalista, desenhos R$ 1200 (40x55cm)
Rafael Pagatini, xilogravura R$ 4.000 (36x46cm)
Jimson Vilela, (livro aberto recortado) R$ 6.500
Reynaldo Candia, (livro escavado R$ 3.000)
Mariana Matos R$ 10.600 (140x180cm)
Carolina Paz R$ 5.000 (50x31cm)
Inaê Coutinho R$ 6.000 (36x53cm)
Claudio Matsuno, colagens com desenho R$ 1200 cada (50x60cm) (faz parte de um tríptico)
Marcelo Comparini, 100x80cm (TV) R$ 9.000, pintura 30x40cm R$ 2800, pintura 50x60cm R$ 5000
Para mais informações contate Galeria Virgilio
galeriavirgilio2@ gmail com
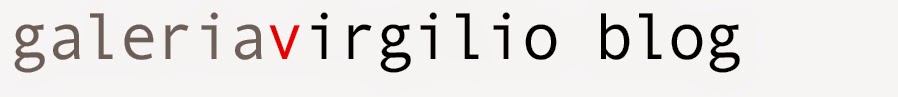


















.jpg)