Texto da exposição:
Paulo Jares
Impressões sobre a série Luz – Bate-papo entre Paulo Jares e Guy Amado
AGUY AMADO: Paulo, queria que você me falasse mais sobre o que me parece ser uma guinada ou reorientação no teu trabalho no que se refere ao abandono de certo esquema compositivo que privilegiava um olhar “pictórico” sobre as cenas ou situações por ti captadas. Digo isso em relação ao pouco de tua produção que conheci até cerca de 2005-2006, o que eu chamaria de registro de situações estéticas e onde sentia um dado formal mais marcado, tanto pelo enquadramento-composição como por uma forte presença da cor como protagonista. E que na tua produção de agora me parece mais distante. Você poderia falar um pouco sobre isso, e avançar mais sobre essas séries recentes, como a que apresenta agora na Virgilio?
PAULO JARES: caro Guy, conforme o observador do trabalho não existirá uma leitura da questão formal, podendo ser vista dentro de uma tradição construtiva - seriam as fotografias feitas a partir de uma composição - recortes da realidade como objeto do trabalho em si. As fotos com oposições cromáticas e tendo o plano se impondo remetem à pintura, num jogo desse espaço pictórico. O meu trabalho vem de uma procura pelo que me surpreende, as fotografias são feitas durante meu caminho nas cidades, onde aparece essa visualidade que você indicou nos trabalhos anteriores. Mas eu venho atuando desde o ano 2000 focado numa relação entre o urbano e a natureza, trabalhando os espaços de acordo com a idéia de encontrar o que será fotografado. Então, quando eu fotografo por exemplo uma caixa de isopor com fita azul e depois encontro outra caixa de isopor também colorida eu faço o recorte, e a partir daí essas duas imagens já dizem o que eu procurava, não repito mais, senão acabo criando uma fórmula, e isso não me interessa.
GA: A propósito disso, você mencionou um interesse por certa ideia de "abstração" em sua produção mais recente. Procede? Se sim, a serviço de que estaria esta pulsão? Me parecem cenas noturnas e chuvosas, essa série...e a luz parece ganhar outro peso nessas imagens, repotencializando ou transmutando o que creio ser um momento urbano nessa espécie de "constelações"...
PJ: Sobre essa "guinada" que você fala, parece um abandono das diretrizes, não é não. As fotografias da série EPICENTRO, expostas na V Bienal do Mercosul, foram realizadas de uma forma já abstrata, e partindo da coisa real que recortei no instante de fotografar. Elas não tem índice; essa questão de saber o que foi fotografado é muito comum, quase todos querem ver o que já não é possível.
Então voltando, as fotografias se fazem a partir do que vejo, e elas se transformam no instante em que fotografo. Quando dirijo o meu olhar para uma árvore com os galhos secos no Hyde Park e fotografo em PB, uma imagem toda preta-branco onde os galhos se misturam, obtenho uma foto abstrata, que chamo Natureza Pollock. Esses são exemplos de uma opção pela criação de imagens abstratas.
As fotografias da série Luz foram feitas a partir da janela da minha casa, numa noite chuvosa onde o asfalto estava sendo molhado pelas gotas de água que não paravam. O espaço refletia uma luz intensa que vinha do poste de iluminação que foi onde direcionei o meu olhar. Já sabia que as fotos seriam uma transformação por conta de todo o movimento de água e luz no asfalto. A cor é uma questão nessas fotografias, ela aparece como formadora do espaço. A natureza da chuva, um elemento vital em potencial, remete a minha memória afetiva de Belém, cidade onde nasci: lá nós marcamos o tempo pela chuva. Então essa pulsão reflete uma relação vivida. As constelações são formações de um "cosmo". Essas séries que venho fazendo recentemente equivalem a anotações, são feitas sempre num espaço não definido a priori.
GA: Com relação a esse interesse em direção à abstração, que de fato é algo um tanto usual na trajetória de diversos fotógrafos, queria saber mais sobre o que você assinala como “ausência do índice”. Isso é um dado que te é caro nesse movimento? A perda, ou talvez o amortecimento do referencial figurativo – porque nem sempre ele está "ausente" de fato...pode estar só deslocado, não? – é algo deliberado e calculado, ou obedece a uma pulsão mais intuitiva? Porque pelo que falas dessa questão na série Luz, pode vir junto um dado afetivo ou a serviço de certo lirismo, por exemplo.
PJ: Nas minhas fotografias procuro não usar o índice, busco construir novos espaços, fragmentos da realidade, como você frisou: "ele nem sempre está ausente de fato... pode estar deslocado"; então, esses recortes podem colocar de lado o que não está ausente e redimensionar a escala por meio do meu enfoque, gerando uma coisa nova. O índice não é problema, ele é vital para a desconstrução que propicia um olhar novo.
GA: Você fala da cor como conformadora ali. Entendo, mas...tem de fato tanta cor? Porque me pareceu predominar sobretudo luz e sombra, um jogo de contraste e refração que gera essa situação ótica de escala incerta, que é interessante. Pode ser uma constelação inteira, ou um mero fragmento de urbanidade devidamente decomposto.
PJ: As fotografias da série Luz tem uma cor predominante, ela vem da própria luminosidade refletida, um tom meio terra, meio dourado e estourado. O jogo de contraste e refração que você observou tem sentido, é nessa escala que surgem essas constelações; e o fragmento da urbanidade está presente, mas não como era na realidade. A luz se insere em toda fotografia, ela marca uma expressão que é sim calculada, e quando fotografei já sabia que o movimento de cor seria dado pela luz através da água no asfalto. Sempre houve um jogo pictórico nas minhas fotos, cor e forma bem definidos; agora, nessa série, ocorre que a cor aparece de outra forma em outro contexto, pois ela é luz. Essa cor não deixa de tratar da discussão pictórica - ela avança, pois há um brilho que transcende a questão puramente cromática ou não.
GA: Quanto à presença da natureza em tuas fotos, ela te interessa mais num registro de contraponto ao elemento urbano? Ainda não tinha percebido que essa relação tivesse um peso tão grande em tuas coisas. Essa série Luz parece exemplificar bem isso, mas incorporando também uma sugestão ou aura de “espiritualidade”... Tem algo assim em jogo aí?
PJ: A natureza entra no meu trabalho a partir de uma potência que é consolidada através de elementos como pedras, árvores, folhas, rastro de cores; é a vitalidade de sua força autônoma que tento captar, abstraindo a realidade natural. O espaço que mostro nessas fotos tem uma relação com uma certa espiritualidade, uma cosmogonia onde luz e sombra jogam a partir da imagem. A relação afetiva desse trabalho tem muito a ver com minha cidade natal, Belém. Desde criança gostava muito do banho de chuva, do cheiro da umidade, das árvores - e foi no Rio de Janeiro que captei essas imagens, através da minha janela.
GA: Pensando melhor, o que referi como dado “espiritual” nessas fotos estaria mais para uma possível leitura de um dado de transcendência, por assim dizer: essa conjunção do que é ainda reconhecível na situação, de resto banal [chuva na cidade à noite], e do que é transmutado - pela ação da luz e da natureza - em uma nova experiência perceptiva, pelo modo com você capta essa ação e a repotencializa como situação estética. Surgem então essas cartografias incertas de brilho e sombras, ou constelações em cobre, onde o asfalto vira cosmo...
PJ: Essas fotografias tratam mesmo de um espaço que é criado a partir de uma transmutação do que é visto; e essa ideia de espiritualidade-transcendência é parte do que emerge a partir dessa relação da própria natureza/água mais a luz, desenhando essas constelações em cobre. Existe uma potência que deriva de um "pathos" próprio do trabalho - luz e sombra emergem e fundam uma cosmogonia.
GA: Pra encerrar, um dado nessa série que me chamou a atenção em relação ao que eu conhecia de tua produção anterior é o registro de captação da imagem [ou o olhar] se dando aparentemente num grau mais despojado, ou liberto de um raciocínio compositivo mais elaborado ou atrelado a um vocabulário pictórico, como já comentamos. Você concorda?
PJ: O trabalho tem agora um compromisso com uma visualidade estética a partir da criação de espaços novos sem uma rigidez de vocabulário; é claro que não deixo a questão pictórica de lado, ela está presente mesmo nas séries mais despojadas, que partem dessa relação natureza-em-potencial e fragmentos de urbanidade. São recortes da própria vida criada pelo homem. Posso muito bem, em outra hora, voltar à composição, às cores, às oposições cromáticas. Eu determino e direciono meu olhar a partir de onde houver algo que me surpreenda. Enfim, posso me dar plena liberdade para fotografar, o visor da minha câmera é um retângulo vazio que pode ser preenchido livremente.
São Paulo / Rio, maio de 2010
___________________________________________________________
Mundos Próprios. Arte e Modernidade, Amazônica, Brasil e Além
Resumo: A partir do romance Cinzas do Norte, de Milton Hatoum, o texto foca nos trabalhos de Oswaldo Goeldi, Emanuel Nassar, Luiz Braga e Paulo Jares, entre outros artistas atuantes entre Amazônia e Brasil para pensar processo criativos de construção de identidades artísticas.
Palavras-chaves: Milton Hatoum, Oswaldo Goeldi, Emanuel Nassar, Luiz Braga, Paulo Jares
Abstract: Starting with the novel Cinzas do Norte, written by Milton Hatoum, the text focus on the works of Oswaldo Goeldi, Emanuel Nassar, Luiz Braga and Paulo Jares, among other artists who act between Amazonia and Brazil to think the creative process of construction of artistic identities.
Key words: Milton Hatoum, Oswaldo Goeldi, Emanuel Nassar, Luiz Braga, Paulo Jares
Este texto tenta responder ao desafio posto por Aldrin Moura de Figueiredo, desde quando o conheci, para que eu ampliasse o campo de abrangência do meu olhar, incluindo objetos e temas relativos à Amazônia em minhas reflexões sobre arte, cultura e história, participando, assim, de um processo em curso de reversão do isolamento cultural em que vivem regiões brasileiras, campos acadêmicos, pesquisadores.1
Um risco de olhar de fora a arte na Amazônia é só ler nas obras a circunstância local, o que implica enclausuramento, circunscrição, entrave. De modo simétrico, é limitador não ver o dado local, deixando de explorar a multiplicidade de significados inerentes às obras de arte. Não se trata de optar por uma leitura, ou outra, mas exatamente de observar as obras no trânsito entre Amazônia, Brasil e além. Nesse sentido, o título desse texto tem pretensões provocativas ao propor que Amazônia e Brasil sejam vistos como parte e todo, mas também como duas partes e duas totalidades comunicantes entre si, no mundo.
Respondendo ao desafio de aventurar-me por mundos e caminhos que nunca explorei, começo, com audácia um tanto cega, focando no livro Cinzas do Norte, de Milton Hatoum.2 Nesse romance, desenrolado a partir de Manaus em meados do século XX, as artes plásticas perpassam toda a trama. Assim, entrelaçada à envolvente trama fictícia, há uma reflexão sobre a formação do artista e o fazer artístico, seja em sentido coletivo, socialmente referenciado - de modo singular, o autor leva ao limite a dimensão literária e ficcional da historiografia da arte, constituindo uma particular história da arte na modernidade a partir da Amazônia –, seja em sentido pessoal, podendo até, quem sabe, funcionar como um roman à clé.
A personagem principal é Raimundo, ou Mundo, apelido altamente significativo, que amplifica ao abreviar. Três figuras masculinas disputam ascendência sobre ele e giram, cada qual a seu modo, em torno de sua mãe, Alícia: seu pai, Trajano, também chamado de Jano; Ranulfo, mais simplesmente Ran, um especial amigo dela; e Arana. Olavo, ou Lavo, sobrinho de Ran e amigo de Mundo, é a quinta figura masculina central na trama, da qual é o principal narrador. As vozes de Ran e Mundo são outras com as quais o autor constrói a sua e o enredo do livro.
“‘Arte’, eu disse, ‘Ele só fala nisso. As pinturas....’” – é como Lavo responde à interrogação de Jano sobre o que ele e Mundo conversam. Além de filho problemático, Mundo é um artista, problemático também e especialmente porque artista. O jogo entre o apelido e o modo de viver da personagem principal sinaliza como Cinzas do Norte vai além de delinear o mundo de um artista, apresentando o artista como um mundo em si, o artista como metáfora (problemática) do mundo. A arte, mais especificamente o desenho, é o meio com o qual Mundo se comunica com as pessoas, os fazendo compulsivamente em seus cadernos, os oferecendo a seus amigos e interlocutores. Lavo relata que, quando o viu pela primeira vez, Mundo estava na praça São Sebastião, desenhando a nau em bronze do continente Europa como um barco adernado rumando em direção ao vazio – imagem-chave de muitas entradas: Mundo, Manaus, Brasil, época, civilização, mundo.
Trajano é um produtor de juta “atormentado pela vocação artística do filho”. Entendendo arte de modo preconceituoso e idealizado, superior, atávico, duvida da inclinação do filho – “Arte... quem ele pensa que é?” – e considera um equívoco o que pensa ser só uma opção – “Uma grande vocação artística não depende apenas de uma escolha” – chegando, em certo momento do livro, a destruir algumas de suas obras. Na casa de Jano – lugar onde se passa boa parte da trama e que é, como nos outros romances de Hatoum, quase uma personagem – há no teto da sala A glorificação das belas-artes na Amazônia, de Domenico de Angelis, imitação da obra feita pelo pintor para o salão nobre do Teatro Amazonas. Pintura que indica tanto o gosto conservador de seu proprietário, centrado na cultura artística da Belle Époque amazônica, como referências com e contra as quais se dá a formação de Mundo.
Se Jano é um opositor, Ran é o primeiro com quem Mundo fala sobre arte, quem compra e lhe dá revistas e fascículos de coleções como Gênios da Pintura, nas quais conhece outra modernidade: Daumier, arte africana, Guignard, Portinari, Volpi. Figura também fundamental em sua formação, Ran o incentiva e ajuda a fazer a Campo de Cruzes, intervenção urbana interativa com a qual Mundo pretende protestar contra os desmandos da política urbana e de habitação do governo ditatorial na cidade, a qual acentua a marginalização social confinando pessoas em condições subumanas em conjuntos habitacionais como Novo Eldorado. Intervenção que não deixa de ser uma agressão ao seu pai, ao atacar os políticos e empresários com os quais Trajano mantém relações profissionais e pessoais. Além de revelar o conhecimento e a adesão de Mundo à arte engajada social e politicamente das décadas de 1960 e 1970, essa obra permite ver como a obra de Hatoum, a princípio centrada em dramas e tragédias pessoais, é uma profunda crítica à modernização, à degeneração das estruturas arquitetônicas, urbanísticas, sociais, familiares, afetivas. Mas não só, nem simplesmente uma crítica. Basta pensar na cena em que Lavo, ao visitar os destroços da casa de Jano, demolida para a construção de um arranha-céu, apanha um pedaço da pintura do teto da sala, um fragmento no qual está figurado “o pincel com a assinatura de De Angelis”. Bela imagem na qual o narrador, o escritor em formação, se apropria de um instrumento artístico em meio a ruínas – indício de uma voz que emerge em meio à decadência, a cópias e releituras; uma voz que se constitui vinculada a tradições narrativas pré-modernistas.
Arana é outro incentivador de Mundo. É o artista com quem ele vivencia o cotidiano excepcional do ateliê, aprende técnicas, conhece tendências e meios artísticos, discute idéias: abstração, assemblage, instalação. Uma figura polêmica, um tanto misteriosa, que aparece no romance de modo um tanto difuso e vai sendo revelada, crescentemente, até o final. Reiterando a visão preconceituosa do artista (modernista) como um problema social, Jano o avalia como um “reles artista”: “Um vagabundo. Um pintor de trambolhos sem pé nem cabeça. Também faz esculturas... coisas tortas, tudo porcaria!” Ran também a ele se opõe e, revelando a farsa de Arana, que teria se tornado artista ao se apropriar das obras de Pai Jobel, “o louco do Morro da Catitita”, anuncia: “Ele deve ter algum talento, mas o charlatão é mais genuíno que o artista.” Aos poucos, delineia-se o perfil de Arana: se, de início, macaqueia para turistas ao vender os originais e as cópias das obras de Pai Jobel, chega a expor na Bienal de Artes e em galerias do Rio de Janeiro e São Paulo a instalação “A dor das tribos... A dor de todas as tribos” – título que é mais um indício a explicitar a tensão entre local e universal na obra de Hatoum –, mas troca “as formas ousadas por pinturas do pôr-do-sol”, de bichos tropicais e ciclos econômicos brasileiros, obras de encomenda para turistas, negociantes e políticos, em Manaus e Brasília. Trajetória mutante, de quase a pós-artista, que culmina com sua atuação como explorador de móveis de mogno.
À medida que o romance avança, Mundo e Arana se afastam, embora não percam o vínculo essencial, se diferenciando como artistas, pois um faz da arte um meio de vida e o outro, um modo de viver. Mundo está aberto a outras referências: aprende “muito com os livros, com as obras de arte”; aprende com os objetos feitos pelo índio velho e doente que conhece na Vila Amazônia, propriedade em Parintins na qual seu pai explora a juta; aprende no galpão do Boi Vermelho, na mesma localidade; aprende no deslocar-se entre Amazônia, Rio de Janeiro, Alemanha, Londres. Nesse fluxo, quão mais longe Mundo chega, mais assume a arte como modo de expressão subjetiva, mais a vivencia de modo pessoal, radical. Ao final, constata dolorosamente que, ao contrário do que pensava, seu viver na arte não fora propriamente uma escolha, e, diferentemente do que pretendia, não deixou de se assemelhar e dar continuidade ao trabalho de seu pai, embora inconscientemente e aprofundando o que na figura paterna se desvirtuara. Com o quê Hatoum introduz as questões da arte como destino e da sina como elemento da vida, mas também a da responsabilidade individual na condução do próprio viver.
Dor é também o que sente o leitor, quando lê que Mundo não consegue usufruir o reconhecimento público de sua arte, pois é apenas depois de morto que sua subjetividade plasmada em coisas, desenhos, passa a ser valorizada, com a venda de suas obras garantindo algum alento a sua família, então arruinada.
Especificamente sobre os impasses do fazer artístico na Amazônia, entre natureza, civilização e arte, cabe citar a frase que Mundo escuta de Albino Palha, amigo de seu pai e entusiasta da ditadura militar: “É muito difícil ser artista aqui. A natureza inibe toda vocação para a arte.” A Amazônia seria maior do que a civilização, mais forte do que a arte. Ao longo do romance, contudo, mais do que a natureza, é justo a civilização, os entendimentos cristalizados nas visões de mundo de pessoas como Jano e outros membros da elite política e econômica local, que parece impedir o fazer artístico inovador e autêntico. Curiosa, sintomática e magnificamente, é dessa tensão que emerge o narrador, o romance.
Um diálogo entre Arana e Lavo – entre o falso artista e o artista em formação, entre o artista submisso às solicitações externas e o sincero narrador das experiências vividas – oferece outra entrada para a abordagem da relação dos artistas naturais da Amazônia com a região, sobre a relação dos artistas com seus lugares de origem e os demais. Lavo transcreve o desabafo de Arana sobre um desentendimento com Mundo durante uma visita deste ao seu ateliê, após sua volta de uma viagem ao Rio de Janeiro, onde “freqüentara um curso de gravura, visitara museus e galerias”, conhecera novos artistas e referências artísticas:
“‘Ele viu tudo aqui, aprendeu tudo comigo, a perspectiva, a luz... No começo, se interessou pela nossa região, percebeu que a Amazônia não é um lugar qualquer. Mas foi se afastando de tudo isso...’
‘Nenhum lugar é um lugar qualquer’, eu disse.
‘Mas não é o nosso lugar. O que tu queres dizer...’”3
À defesa feita pelo artista plástico da condição especial da Amazônia, o escritor contra-argumenta que todo lugar oferece ao artista matéria de trabalho, mas recebe como réplica a ressalva que o lugar deve pertencer ao artista. Ou seja, na Amazônia ou em outra região do planeta, o artista, além de não ser indiferente, deve pertencer ao lugar. Na breve seqüência, delineiam-se diferentes visões sobre a relação entre o artista e o lugar em que e/ou do qual produz: a primeira pressupõe a existência de lugares especiais para a criação; a segunda postula uma indiferença em relação ao lugar, importante é o que dele faz o artista; a terceira implica imbricação efetiva entre artista e lugar. Na rápida sucessão das frases, Hatoum descarta uma condição excepcional – menor ou maior – para a Amazônia, pois a arte pode surgir em todos os lugares desde que o artista deles se aproprie. O que ganha estatuto especial, pois até Arana, um pseudo-artista, ou simplesmente um oportunista que explora desde imagens feitas pelos outros até peças de mogno, tem consciência de que o artista deve estabelecer com o lugar uma relação de mútuo pertencimento.
Pensar as relações entre a Amazônia e o Brasil por meio da arte tem muitos caminhos a trilhar. Seria possível pensar artistas que, como Mundo, nasceram na região, ganharam outras partes do país e o mundo. Nomes não faltam: Ismael Nery, Aluisio Carvão, Francisco Bolonha, entre outros. Em que medida a Amazônia – natureza, civilização e cultura – participa da formação de suas sensibilidades, continua em suas retinas, vaza por suas obras, mesmo quando forjadas em contextos outros, distantes geográfica e culturalmente?
É possível também pensar artistas estrangeiros, naturais de outras regiões brasileiras e mundiais, para os quais a Amazônia funcionou como estímulo especial. Os projetos de Álvaro Vital Brazil, Oswaldo Bratke, Lucio Costa e Vilanova Artigas respondem de modos variados às condições e exigências da região, sendo de grande significação em suas obras individuais e na história da arquitetura no Brasil. E há o caso da Severiano Mário Porto, cuja atuação a partir de Manaus foi determinante, fundamental, para a caracterização de sua obra e para algumas vertentes da arquitetura contemporânea na região.4 Para além do fluxo intenso de artistas durante a fase áurea da exploração da borracha, outro caso é o de Pierre Verger, cujas magníficas imagens de Belém são pontos altos de sua fotografia etnográficoartística.
Nesse sentido, me parece produtivo e importante falar de um artista que não nasceu na Amazônia, mas também não lhe é estranho. Melhor seria dizer que era estrangeiro em toda parte, assim como se fez natural – naturalmente estranho – dos lugares onde viveu. Penso em Oswaldo Goeldi, que foi levado a morar em Belém do Pará alguns meses depois de nascer no Rio de Janeiro, em 1895, acompanhando seu pai, o cientista Emílio Goeldi, que dirigia o Museu Paraense desde 1893. Foram cinco anos na cidade, pois, em 1900, sua família passou a residir novamente na terra natal dele. À capital paraense, Goeldi só retornou 38 anos depois, com uma obra já consolidada. Seria forçar a letra dizer que a Amazônia determinou seu trabalho só porque ele passou em Belém os primeiros anos de vida. Equívoco também seria não admitir ressonâncias amazônicas em sua obra. Goeldi é um dos casos em cujo trabalho ninguém parece querer ver circunstâncias localizadas, muito menos amazônicas. Não se trata de restringi-lo à Amazônia, a partir da biografia, mas de perceber como questões locais podem ser articuladas à sua poética. Goeldi é frequentemente apresentado como um expressionista exilado nos trópicos. Contudo, a Amazônia continua a desaguar a pergunta: quais são as dimensões equatoriais de seu expressionismo?
É certo que na maioria de suas obras nenhuma paisagem urbana específica é figurada. A cidade quase deserta, semi-abandonada, que Goeldi representa com ruas largas, casario antigo, árvores, animais, pessoas e objetos solitários não é especificamente o Rio de Janeiro, Berna, Zurique, Niterói, Salvador ou Belém do Pará, lugares onde ele viveu ou esteve durante algum tempo. São cenas urbanas que traduzem decadência, marginalização e isolamento típicos da modernidade – são universais. Mas boa parte delas também pode ser vista de modo particular, constituindo um tipo: a cidade litorânea portuguesa na América – o universal é alcançado a partir da condição local. Nesse sentido, é possível vislumbrar esquinas e becos cariocas, vielas niteroienses, largos soteropolitanos, alamedas de Belém, em seus desenhos e gravuras, embora nenhum deles esteja propriamente retratado em suas obras.
Paisagem, pescadores, peixes, gatos, edifícios e coisas também falam do viver junto ao porto, da vida em situações limiares e, portanto, têm sentido universal. Não é só nem tanto que a intimidade com o cotidiano portuário e o mundo da pesca esteja presente na vida de Goeldi desde a infância, quando ia ao porto de Belém, ao mercado Ver-o-Peso, hábito que manteve por toda sua vida, nas cidades que viveu. Mas é fato que ele fala de experiências limítrofes partir das relações entre humanos, animais e espaços urbanos que vivenciou em alguns lugares específicos, os quais – cotidianos, lugares, relações – permanecem entranhados, embora não espelhados, em seus trabalhos.
A fauna também tem ressonâncias especiais em seu trabalho. O onipresente urubu se presta bem como símbolo da marginalidade expressionista. Mas uma visita ao porto de Belém leva, imediatamente, a pensar no vínculo desse animal à cidade e, consequentemente, no de Goeldi a ela. Contudo, mais do que o urubu, Belém ajuda a perceber a reincidência de outro bicho constante em sua obra, apesar de pouco analisado pela crítica: a garça. Por exemplo, enquanto os urubus configuram um tema autônomo do Centro Virtual de Documentação e Referência Oswaldo Goeldi, as garças estão junto a gatos, peixes e outros animais no tema Fauna e Flora 5. Entretanto, na Amazônia, garças e urubus podem tanto ser vistos como bichos autônomos, de significações independentes, quanto como um par. Por mais improvável que pareça, o par formado pelo urubu e a garça ganha sentidos outros se pensado em relação à cidade de Belém, na qual, ainda hoje, é possível experimentar a presença desses animais: os urubus no porto, junto ao mercado Ver-o-Peso, as garças em sítios amenos; quando próximos, estão separados em grupos próprios, com árvores só com garças pousadas e outras só com urubus. Par que ganha ressonâncias étnicas e sociais caso se pense do dito quilombola do Alto Tapajós que me foi dito por Aldrin Moura de Figueiredo: “Onde urubu está, garça não chega”. Branco e preto, alto e baixo, ângulos esconsos e encurvamentos, fêmea e macho, graça algo esquisita e feiúra um tanto cômica, pureza e abjeção, luz e escuridão – oposições com significações ecológicas, estéticas, de gênero, étnicas, sociais, que ainda hoje podem ser sentidas em Belém do Pará e na obra de Goeldi. Se alguém perguntar se ele as traduziu objetiva e conscientemente, com algum intuito, a melhor resposta parece ser: provavelmente, não. Contudo, a questão é outra: mais do que as representações dos bichos, essas questões estão entranhadas por meio delas em seus desenhos e gravuras. Questões universais postas com elementos locais.
De modo semelhante, seria impensável defender que a lógica gráfica do trabalho de Goeldi é determinada por suas estadas em Belém, mas sim que ganha sentidos insuspeitos quando pensada em relação à cidade. Especialmente as relações entre luz e cor de suas gravuras. A luz equatorial, intensa e excessiva da cidade tanto ofusca durante o dia, exaltando as coisas e seus tons, quanto se embrenha noite adentro, fazendo o escuro emergir da cor. Perdurando, a luminosidade colore o anoitecer. Depois de ter experiências cromáticas especiais como são presenciar o alvorecer e o pôr-do-sol na cidade, especialmente junto ao rio, é difícil não pensar nas experiências gráficocoloristas de Goeldi que imiscuem negrume, luz e coloração, promovendo choques mais ou menos intensos de branco, preto e cor, fazendo pensar o que ficou em suas retinas, em seu olhar e sentir, da experiência daquela paisagem.
Em 1906, pouco tempo depois de Goeldi ter deixado a cidade, o intendente Antonio Lemos observou que o “excesso de luz solar” impedia as fotografias de captarem a modernidade progressista e bela do Pará6. Goeldi parece ter, depois, percebido qualidades nesse exagero, sua potência, e as usou na contramão, com matéria recolhida nos escombros da modernidade, para falar do decaimento e marginalidade a ela inerentes, não só em Belém.
As relações entre luz e cor constituem um gancho de conexão da obra gráfica de Goeldi com a pintura de Aluisio Carvão, cuja saturação cromática tão característica também parece derivar de seu viver primevo na região. Luz e cor que dão acesso, ainda, a certa produção de arte contemporânea de Belém do Pará, especialmente em fotografia. Vinculação que é um bom modo de escapa à limitação da mesma à circunstância local, observando seu alcance global, estabelecendo vínculos para além da condição amazônica. Pois parece que, de fora, só se quer ver o dado local da cena artística contemporânea na cidade.
Com efeito, como Goeldi, embora por caminhos diferentes e somando outras referências, alguns artistas contemporâneos de Belém têm optado menos pelos signos de progresso e beleza canônica, preferindo lidar com elementos obtidos em ruínas, destroços, a força da urbe marginal, a decadência da modernidade.
Além de valer-se do excesso de luz e da explosão cromática característicos da cidade, Emanuel Nassar vem construindo sua obra por meio da representação de coisas e lugares de uma urbanidade periférica, não modelar. Contudo, o modo como explora a ambigüidade dos signos, oscilando entre figurar e abstrair com estruturas geométricas (remetendo à obra de Alfredo Volpi), entre pintura e objeto, e, mais recentemente, entre pintura e
fotografia, aponta como questão central e profunda de seu trabalho, para além da paisagem local, o problema da representação artística e da construção da subjetividade por meio dela.
Na mesma direção, mais do que a paisagem física e humana de Belém e seus arredores, a fotografia de Luiz Braga explora a luz da região, justo o rico cromatismo luminoso das horas limiares. Contudo, ao contrário de Goeldi, que escande as cores do preto, banhando o breu de cor, Braga destila o colorido, suas nuanças e tonalidades, sutis variações, dissonâncias, iluminando coisas e seres com empática, porém algo acre, melancolia e sensualidade. Humanismo, compaixão fotográfica que dialoga diretamente, embora com certa distância, particularmente cromática, com o classicismo contemporâneo de Sebastião Salgado.
De início, as fotos de Paulo Jares também exploravam elementos típicos da cena fotográfica paraense: luz intensa, ordem construtiva, grafismo, signos urbanos, cultura de periferia. Mais recentemente, tendo como referência primeira, mas não exclusiva, as articulações entre arte e fotografia de Miguel Rio Branco, ele passou a jogar de modo mais intenso com a ambigüidade da representação, forçando os limites da abstração, incorporando questões conceituais, dialogando com o Surrealismo. Como em Goeldi, suas ruas e calçadas não são necessariamente as de Belém, pois as fotos podem ter sido feitas em outras cidades, mas não deixam de estar a ela referidas.
Visão brevíssima e arriscada do trabalho de Nassar, Braga e Jares que, além de esboçar uma vertente específica, desdobrada por questões, meios, espaços e tempos coincidentes ou não, aponta dimensões universalizantes em
seus trabalhos, as quais não deixam de estarem vinculadas a Belém, à região amazônica. Assim como Goeldi, Porto, Hatoum e outros, que enfrentam o pensar e fazer da arte na e com a Amazônia, sendo um parte do outro, se pertencendo reciprocamente, eles lidam com tensões entre local e universal para constituir suas obras, seus mundos artísticos, próprios.
Roberto Conduru,
UERJ, ANPAP, CBHA
ANPAP - 18º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
Transversalidades nas Artes Visuais - 21 a 26/09/2009 - Salvador, Bahia
1 Dedico esse texto a Aldrin Moura de Figueiredo, ressalvando que as deficiências do mesmo são de minha inteira responsabilidade, enquanto o estímulo originário, de grande importância, a ele é devido.
Agradeço a ele, ainda, e ao Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará o convite para apresentar minha interpretação dessas obras no Colóquio Patrimônio, Arte e História na Amazônia, no dia 30 de outubro de 2006, em Belém, e por me ter propiciado um reencontro com Jussara Derenji, que fez uma generosa e gentil apresentação de meu trabalho na ocasião, além de comentários e questões cujas respostas pretendo ter incluído nesse texto, na medida do possível.
2 HATOUM, Milton. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
3 Idem, Ibidem, p. 170.
4 A esse respeito, ver: CONDURU, Roberto. “Tectônica Tropical”. In: ANDREOLI, Elisabetta, FORTY, Adrian (organizadores). Arquitetura Moderna Brasileira. Londres: Phaidon, 2004, pp. 56-105; CONDURU, Roberto. Vital Brazil. São Paulo: Cosac Naify, 2000; SEGAWA, Hugo (organizador). Arquiteturas no Brasil.
Anos 80. São Paulo: Projeto, 1998.
5 http://www.centrovirtualgoeldi.com/
6 Apud PEREIRA, Rosa Cláudia Cerqueira. Paisagens Urbanas: Fotografia e Modernidade na Cidade de Belém (1846 - 1908). Belém: Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia, 2006, p. 116.
(dissertação de mestrado)
Referências
CONDURU, Roberto. Vital Brazil. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
__. “Tectônica Tropical”. In: ANDREOLI, Elisabetta, FORTY, Adrian (organizadores).
Arquitetura Moderna Brasileira. Londres: Phaidon, 2004, pp. 56-105.
PEREIRA, Rosa Cláudia Cerqueira. Paisagens Urbanas: Fotografia e Modernidade na Cidade de Belém (1846 – 1908). Belém: Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia, 2006, p. 116. (dissertação de mestrado)
HATOUM, Milton. Cinzas do Norte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SEGAWA, Hugo (organizador). Arquiteturas no Brasil. Anos 80. São Paulo: Projeto, 1998.
Currículo resumido: Roberto Conduru é professor de História e Teoria da Arte na UERJ, na qual dirige atualmente o Instituto de Artes. É autor de Arte Afro-Brasileira (C/Arte, 2007) e Willys de Castro (CosacNaify, 2005), coautor de A Missão Francesa (Sextante, 2003). É pesquisador do CNPq, membro da ANPAP e do CBHA, do qual é o atual presidente.
___________________________________________________________________
Paulo Jares - Desvio do horizonte
A fotografia de Paulo Jares sempre foi marcada por captar fortes e inteligentes oposições cromáticas em recortes das coisas e acontecimentos urbanos na qual a figura humana está sempre ausente. Todas são coisas que sofreram a intervenção humana; nunca vi uma fotografia de Paulo Jares de um ambiente natural; pode ser que exista, mas não está presente nas exposições que pude ver nem nas obras que constam de coleções privadas que conheço. Entretanto, esse homem que faz as coisas, que constrói as cidades, tampouco aparece, dele só vemos suas marcas. Todas as fotos são dirigidas por um olhar para baixo, não cabisbaixo, mas voltado para o chão e para as áreas às quais damos pouca atenção, é uma literal recusa da busca do horizonte, que raramente pode ser visto nos centros urbanos. Esse desvio do horizonte, por um olhar que desce uma rampa, resulta, entretanto, em acontecimentos plásticos poderosos, uma foto que dialoga intensamente com o campo pictórico da arte contemporânea. E, talvez, por isso mesmo, seja de certa forma o paradoxo da captura de coisas abstratas.
Nas sete fotos apresentadas, na 5ª Bienal do Mercosul, salvo Desvio para Malevich (2003), de um vermelho muito intenso, e o par Sem título 1 e Sem título 2, no qual na primeira as faixas amarelas alaranjadas são fortes, e a mesma cor aparece discretamente na segunda, as outras imagens são tons do cinza ao preto, passando por reflexos prateados. Esse exercício, realizado num trajeto diário, quando percorre certos trechos da cidade, não perde em força quando comparado com as fotos de cores intensas e oposições inusitadas. As fotos quase monocromáticas, intituladas Epicentro I, II e III, pelo movimento de sua superfície, seus brilhos e variações em torno de uma mesma cor e seus matizes, são testemunhos que o olhar estético consegue emancipar o mais simplório detalhe de um chão de rua à estatura de obra de arte. E é sinal de um mundo no qual esses prosaicos e despercebidos detalhes podem ser guardadores de mais potência poética que muitas figuras que circulam na mídia com toda sua pompa e sua glória.
Texto publicado em Direções do novo espaço. 5ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 2005.
Paulo Sergio Duarte
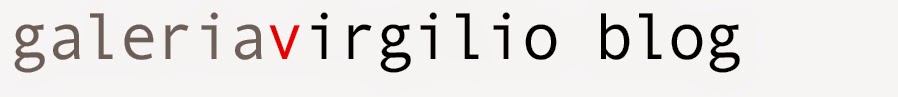
No comments:
Post a Comment